[title]
A maioria dos músicos têm de arranjar umas coisas para dizer nas canções que compuseram. Leonard Cohen faz parte do número restrito dos que teve de compor canções para veicular as suas palavras.
Quando, em 1967, Songs of Leonard Cohen foi editado, todo o singer-songwriter lúcido deve ter sentido um calafrio: entrara em cena um poeta-que-cantava que puxava subitamente o nível de elaboração e subtileza da canção popular anglo-saxónica para um nível estratosférico.
Leonard Cohen entrou em cena com um considerável avanço sobre o típico autor de letras de canções pop: fascínio logo a partir da adolescência por poesia (em particular a de Federico García Lorca), primeira publicação de poemas em revistas em 1954 (tinha então 20 anos), primeiro livro, Let us compare mythologies, em 1956 (maioritariamente constituído por poemas escritos entre os 15 e os 20 anos), segundo livro de poesia, The spice-box of earth, em 1961 (que lhe mereceu de um crítico este louvor: “talvez o melhor jovem poeta do Canadá anglófono”). Seguir-se-iam mais livros de poemas e dois romances, com recepção discreta e vendas muito modestas.
E depois aconteceu Songs of Leonard Cohen, um disco em que, sob a sobriedade espartana e vocalização solene e mesurada, se ocultava uma intensidade emocional arrepiante e em que a palavra assumia um papel preponderante.

Songs from a room (1969) confirmou o que a estreia anunciara. Como neste, os recursos musicais são parcos: um dedilhado ondulante de guitarra que enreda o ouvinte na sua monotonia, arranjos discretos, aqui um contrabaixo, ali uma harpa judia ou um banjo, um coro feminino, lá muito ao fundo uma pincelada translúcida de órgão. O despojamento instrumental coloca em relevo uma voz contida, sem qualquer exuberância, impregnada da sabedoria amarga e da equanimidade de quem viveu muitos séculos e estava no topo da montanha a que Abraão levou o filho Isaac para o sacrificar a Deus: “Vós que agora construis estes altares/ Para sacrificar estas crianças/ Não mais o deveis fazer/ Um ardil não é uma visão/ E vós nunca fostes tentados/ Por um demónio ou por um deus”.
A neutralidade monocórdica com que Cohen escolhe cantar, longe de engendrar monotonia, cria um efeito hipnótico e, por paradoxal que possa parecer, confere mais impacto e gume às terríveis frases que desfia do que a mais expressiva e operática das vozes.
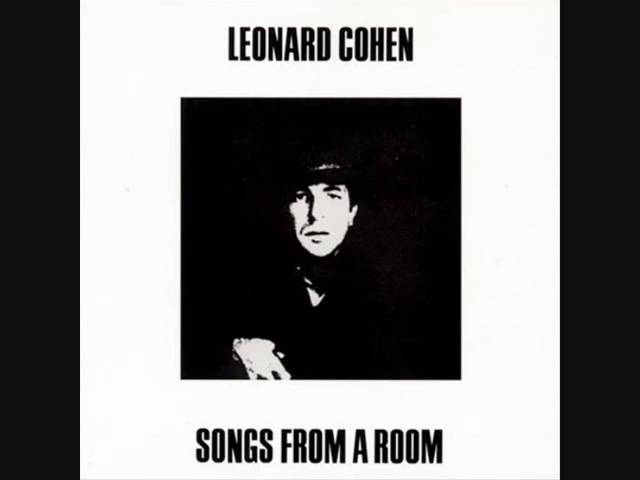
Após dois discos magníficos, surgiu em 1971 uma estrela negra chamada Songs of love and hate. O ódio tem mais espaço do que o amor, a voz tornou-se mais grave, pausada e ominosa e os arranjos orquestrais têm agora mais presença e dramatismo – há que prestar também homenagem ao arranjador Paul Buckmaster e ao produtor Bob Johnston por terem sabido doseá-los com justeza, numa época em que era usual que excelentes canções fossem prejudicadas por arranjos inadequados (ouça-se Bryter Layter de Nick Drake, desse mesmo ano de 1971).
A abertura com “Avalanche”, em que cada sílaba é uma navalhada desferida com premeditação, define o tom geral de um dos discos mais sinistros da história: “As migalhas de amor que me ofereces/ São as migalhas que eu deixei para trás/ A tua dor não é uma credencial aqui/ É apenas a sombra, a sombra da minha ferida”.

Em “Dress rehearsal rag” Cohen quebra a usual impassibilidade do seu canto e arma-se de um sarcasmo cortante e implacável para interpelar alguém (ele próprio?) que se prepara para fazer a barba e, em vez disso, deita contas à vida: “Passa um funeral no espelho/ E detém-se no teu rosto”. Cohen não se limita a cravar a lâmina, torce-a na ferida, ao comparar, num tom trocista, a miséria presente com as bem-aventuranças passadas: “Em tempos houve um caminho/ E uma rapariga de cabelos de avelã/ E tu passaste os Verões/ Colhendo os frutos que aí cresciam [...] Esta é uma memória cruel/ Sim, faz-te cerrar o punho/ E erguer as veias como estradas/ Sulcando o teu pulso”. Atendendo a que umas linhas antes, a letra mencionou lâminas de barbear, não é difícil adivinhar que ideias atravessam a mente deste homem.

Na década de 70, Cohen lançaria mais dois excelentes discos, New skin for the old ceremony (1974) e Recent songs (1979), mas nunca mais desceria ao abismo sulfúrico de Songs of love and hate.
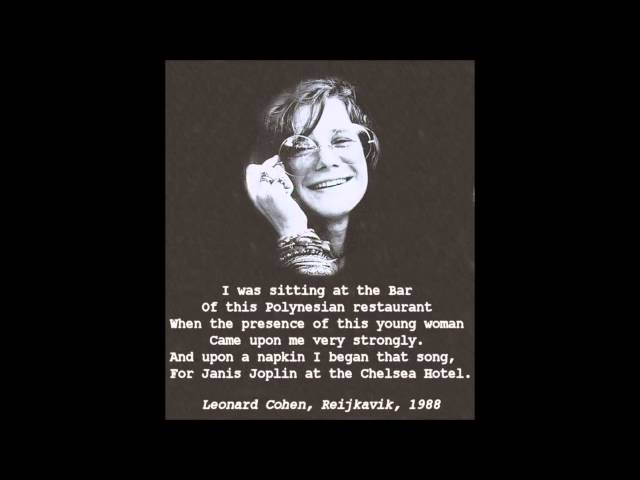
Pelo contrário, em 1977 cometeu o erro de envolver-se com o obnóxio e mentalmente instável produtor Phil Spector e gravou um calamitoso equívoco intitulado Death of a ladie’s man, empastado por arranjos pesados e despropositadamente opulentos. Mais tarde, Cohen expressaria o desagrado com Death of a ladie’s man, queixando-se de que Spector lhe “roubara” as canções. Entre os exemplos possíveis das escolhas impróprias, arbitrárias e absurdas de Spector está o facto de a voz que ficou registada em disco – e que é manifestamente insegura e desajeitada – ter sido vista por Cohen apenas como um esboço; porém, Spector entendeu que eram estas gravações de voz que deviam ser usadas na mistura definitiva, sobre a qual Cohen não teve qualquer controlo.
O que é intrigante é que os discos que Cohen assinou depois de 1979 – e foram oito, contando com You want it darker, saído há poucas semanas – estão mais perto de Death of a ladie’s man, do que de qualquer das obras-primas gravadas entre 1967 e 1979. Para mais, o progressivo declínio das capacidades vocais de Cohen veio reduzir o seu registo a uma spoken word ponderosa e entorpecedora. Desses discos, em que as letras de Cohen mantêm o poder mas a música está reduzida à mais banal e ínfima expressão, quanto menos se disser melhor. Qualquer tempo que se gaste com eles será mais bem empregue a reouvir Songs of love and hate, pois desvendar os seus segredos é tarefa para a eternidade.