[title]
Os Beautify Junkyards olham para o passado e exploram os espaços limítrofes em busca de novos futuros – para a música e arte popular; para esta sociedade em crise. Fazem-no há mais de uma década, mas nunca o fizeram como em Nova, terceiro disco pela Ghost Box e o mais alinhado com o resto do catálogo de uma das editoras determinantes da fantologia musical britânica. Os espectros da folk e do tropicalismo que se escutavam em discos anteriores continuam a assombrá-los, se bem que as canções são agora mais electrónicas e libertas de amarras – mais próximas das que o vocalista e principal compositor João Branco Kyron (e não só) fazia com os Hipnótica, apesar de radicalmente diferentes. Antes do concerto de apresentação, na próxima quinta-feira, 7 de Novembro, no Lux Frágil, falámos com João Branco Kyron sobre a editora dos últimos anos e o novo disco, as suas influências e convidados históricos (Paul Weller, Dorothy Moskowitz). Mas também sobra a falta de horizontes de futuro e alternativas ao neoliberalismo. Ou seja, sobre o realismo capitalista.
Fala-me daquele título: Nova. O que significa?
Estávamos à procura de um título simples, que funcionasse tanto em português como em inglês e que, por outro lado, também traduzisse alguma coisa relacionada com o conteúdo. E há uma trilogia do [William S.] Burroughs que é chamada a trilogia Nova, que inclui três romances dele, The Soft Machine, o Nova Express e mais um [The Ticket That Exploded]. Introduz a técnica de cut-up e tem algumas ideias mais subversivas, ligadas à revolução electrónica, a gravar o som ambiente de sítios para depois reproduzir esses sons e ter algum impacto sobre o ambiente. Essa confluência de situações levou-nos a encontrar o título, que o Julian House, [co-fundador] da Ghost Box, acabou por reflectir em imagens na capa.
Sei que é ele quem desenha as capas de todos os discos da editora. Mas até que ponto estiveram vocês envolvidos neste processo? Deram-lhe algumas indicações?
Ele é um amante do cut-up. Tem uma série de capas, de Broadcast e não só, que são à base de colagens. E já no Cosmorama tínhamos falado na questão da imprensa underground, porque o Julian colecciona [edições] do International Times, da Oz e dessa literatura, e eu ainda consegui comprar algumas antes de [os preços] serem exorbitantes. Acabámos por seguir outro caminho no álbum anterior, mas agora tivemos a oportunidade ideal para explorar essa vertente. E ele depois também me enviou alguns livros que estão indisponíveis na net, do Guy Debord, que são à base também de colagens e mapas da cidade e têm desenhos, contrapostos com recortes de jornais, que têm a ver com o drifting.
Andar à deriva.
Exacto. Tinha tudo a ver com o disco. Depois ele foi enviando mood boards e as coisas foram evoluindo. Foi bastante gratificante, porque a capa foi ao encontro da música que existia, apesar de não termos racionalizado muito à partida.
As letras também lembram muitas vezes cut-ups.
E algumas frases foram mesmo cut-up real, recorte. Havia um bocado a tentativa de abordar as músicas de um ponto de vista mais surrealista, sem ser tudo explícito.
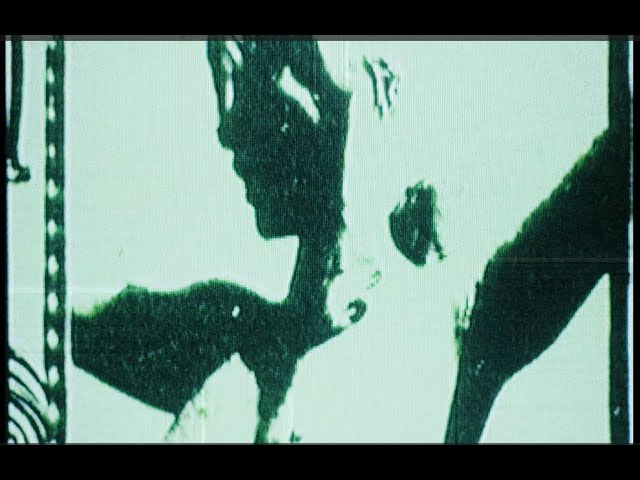
Tu só escreves as letras que cantas? Ou mesmo as partes da Martinez e, por exemplo, do Paul Weller foram escritas por ti?
As que a Martinez canta, eu escrevi. Mas o Paul Weller [ex-The Jam] e a Dorothy Moskowitz [ex-The United States of America] escreveram as próprias letras.
Como é que ele aparece aqui? Teve a ver com o EP que lançou pela Ghost Box?
O Paul Weller é um fã da Ghost Box. Depois de editarmos o Cosmorama, foi convidado para ser editor de um exemplar da Mojo e pôs uma música nossa no CD, além de escrever algumas palavras. Também falou sobre nós na BBC e disse ao Jim [Jupp, o outro patrão da editora] que gostava imenso da banda. Quando completámos as bases que tínhamos para trabalhar, começámos a pensar que uma ficava excelente com a voz do Paul Weller, então falei com o Jim, e ele meteu-nos em contacto. Normalmente estas coisas passam pelo manager, há uma série de barreiras, porém falámos de tudo directamente com ele. Depois mandei-lhe um rough mix do tema e ele disse que sim. Que gostava e queria cantar.
Estiveram juntos em estúdio?
Não. Gravou tudo lá no estúdio dele, foi enviando versões e fomos falando até chegar à versão final da “Sister Moon”, fantástica. É interessante ouvir a voz dele noutro contexto e ele, como fã da Ghost Box, também gostou. Até tentou aproximar a letra ao nosso universo. É engraçado que, sem termos falado, a letra que a Dorothy escreveu para o “Turn the Tide” também acaba por estar um pouco relacionada: a maré e a lua. Foi muito interessante, isso.
E há alguma coisa que ligue as letras das canções que escreveste?
Talvez o tempo, a situação em que as escrevi. Queria também afastar-me um pouco do universo mais bucólico e mais pastoral de alguns discos anteriores. Os temas também reflectiam um universo um pouco mais electrónico, se calhar mais nocturno e urbano. Mas sem haver um conceito. Eram ideias genéricas, pequenas histórias.
O som do disco também é mais electrónico. Foi por ter voltado o Bernard Loopkin?
Em grande parte. Porque ele é um explorador de sonoridades, e ambos gostamos de nos sentarmos e de experimentarmos sons, de irmos aos nossos arquivos e começarmos a samplar filmes e documentários. Isso contribuiu bastante para o resultado final. Mas houve também uma ideia deliberada nossa ao início de explorar mais esse universo. Porque nós gostamos muito de música electrónica, das primeiras experimentações: The United States of America, White Noise, Silver Apples, BBC Radiophonic Workshop, a Delia [Derbyshire].
Nos discos anteriores essa influência era menos óbvia, mas neste nota-se muito. Está mais alinhado com outros artistas que associamos à Ghost Box, como os Broadcast.
Sem dúvida. Essa foi uma das ideias logo à partida, e acredito que conseguimos ser bem sucedidos nesse aspecto. Às vezes as bandas conversam e tentam estipular, todavia quando partem para o concreto fazem mais do mesmo. Não foi o caso. No fundo, também são influências que estão enraizadas dentro de nós. Não era uma coisa contra-natura...
Mesmo no Cosmorama (2021) e em The Invisible World of Beautify Junkyards (2018) havia alguns pontos de contacto com outros lançamentos da editora: uma relação algo difusa com o tempo, a abordagem fantológica à folk e o tropicalismo.
Claro. Quando me entrevistou, o Bob Fischer – que escreve para a Electronic Sound e tem um blogue chamado The Haunted Generation – dizia que aquele imaginário de Inglaterra, recuperado pela fantologia e, em particular, pela Ghost Box, estava muito ligado às séries da BBC, alguns anúncios… E perguntava o que tínhamos nós em Portugal? Eu respondi que tínhamos as nossas séries também, tínhamos o Espaço 1999, tínhamos uns desenhos animados bizarros, O Professor Baltazar, que era super psicadélico. E tivemos o nosso período folk. Apesar de estar muito ligado à intervenção, o Zeca [Afonso] tem um repertório que não fica nada atrás de uns Pentangle ou uns Fairport Convention.
E vocês estão só a fazer em Portugal, com as nossas referências, o que os artistas da Ghost Box fazem com as referências inglesas deles. Ou o que os americanos fazem com as referências americanas deles – por exemplo, os Ariel Pink's Haunted Graffiti.
Exactamente.

No vosso trabalho – e nos discos da Ghost Box, em geral – há uma ideia de finitude. De não haver futuro, ou horizontes de futuro, no mundo em que vivemos.
Não será uma visão tão negra. Acho que será também utópica, mas é uma visão mais romântica. Nós tivemos algumas décadas douradas para o mundo ocidental, antes do neoliberalismo começar a corromper tudo, houve ali um bocado “isto pode dar certo”.
Sim, nos anos 60 e 70.
Os anos 60 foram um bocado mais conturbados.
Mas eram conturbados porque as pessoas acreditavam que podiam mudar algo.
Havia perspectivas, exacto.
Por exemplo, se pensarmos num Grupo Baader–Meinhof, num Partido dos Panteras Negras, até os hippies...
O Maio de 68.
Todos eles acreditavam que havia um futuro em aberto. Pelo qual valia a pena lutar.
Havia a projecção de um futuro que nunca chegou, como diz o Mark Fisher. Por exemplo, no Ghosts of My Life…
Writing on Depression, Hauntology and Lost Futures.
Aquela ideia de slow cancellation of the future. Em que a Ghost Box também se alicerça.
Desenterrar o passado, porque foi a última vez que houve vislumbres de um futuro.
A tal visão romântica é essa: enveredámos por um caminho numa determinada ramificação da árvore, em que realmente não se concretizaram muitas coisas. No entanto, acreditamos que é possível regredir nessa ramificação e enveredar por outro ramo.
Que é o que fazem na vossa música.
Sim. A nossa música, apesar de alegórica, tenta ir um bocado por aí. Tenta resgatar ideais e mostrar que há alternativas [ao neoliberalismo]. Que podemos almejar caminhos que possam ser gratificantes para a nossa vivência e para a nossa experiência no dia-a-dia. Não é uma música de o futuro ser negro, é uma música de que há outras possibilidades a explorar. E basta uma sequência de eventos encadeados para espoletar isso. Se calhar, alguns podem não ser muito positivos. E podem afectar a grande parte da humanidade. Mas talvez seja preciso que isso aconteça para haver um resgatar desses ideais dos 60s.
Houve uma altura que eu sentia que o genocídio de Gaza podia ser isso. Que a generalidade das pessoas visse aquilo acontecer e dissesse: este não é o caminho.
De certa forma, isso aconteceu. iluminou muitas pessoas.
Mas passado mais de um ano continua a haver crianças a serem queimadas vivas no meu feed. E não podemos fazer nada.
Primeiro, porque Israel e Estados Unidos é um único país, não é?
É a 51.ª estrela na bandeira.
É um Estado destacado. Portanto, enquanto os Estados Unidos da América alimentarem – e vão continuar a alimentar – isso vai continuar a acontecer. Mas houve um iluminismo a uma escala global que nunca aconteceu no século XXI. Houve um manto destapado sobre a imprensa ocidental. E que não se vai voltar a tapar. Há muita gente, cada vez mais, a buscar as suas fontes de informação fora desses sítios.
Mas não vamos chegar a tempo de fazer nada. Essa é a tragédia.
Vai ser recordado como um holocausto. Por acaso, vi esta semana um filme francês, chamado Mr. Klein, de 1968, com o Alain Delon, e retrata factos que eu desconhecia: na França ocupada, foi a polícia francesa que catalogou e entregou os judeus aos nazis.
Sim.
Não foram os nazis a ocupar a França que andaram à procura. Foi Vichy y sus muchachos. Portanto, qual é o limite para o sentimento de culpa da França e da Alemanha? Porque os Estados Unidos nós percebemos, não é? É o mesmo país. Agora, os países europeus...
Cá em Portugal ainda podemos, apesar de tudo, fazer manifestações de apoio à Palestina. Temos não sei quantos polícias a rodear-nos, mas não nos fazem nada.
Na Alemanha é logo carga de porrada. Velhos, novos... Entram-te em casa, reviram tudo por causa de uma story que diz “from the river to the sea”. É atroz. Uma pessoa que defende a paz e a autonomia de um Estado, não pode ser considerada terrorista. Nunca.
LuxFrágil (Lisboa). 7 Nov (Qui). 22.30. 12€
📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter
⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram

