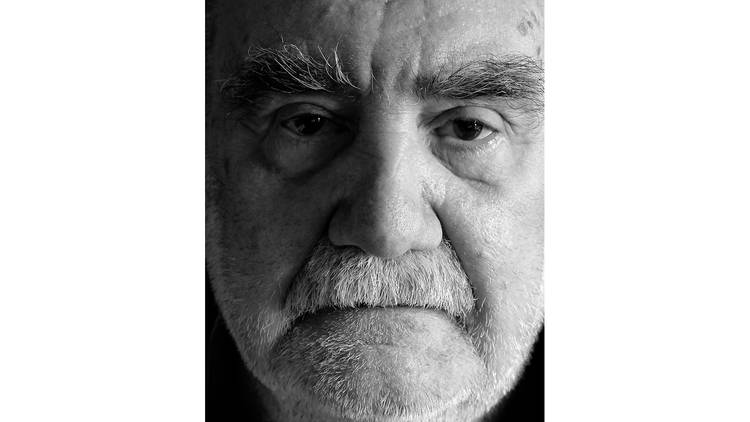Dificilmente adivinharia o autor: “O turista, como se sabe, é logo a seguir à galinha (de aviário ou não), o animal menos viável da criação”. Estes textos, publicados em Luanda no ano de 1971, no Notícia – Semanário Ilustrado, devolvem-nos um Herberto Helder (1930-2015) que muito poucos conhecerão (o próprio filho, Daniel Oliveira, que prefacia o livro, nunca os lera), num registo entre a reportagem e a crónica, munido de um humor espantoso e de uma verve crítica que, todavia, não apagam um certo traço poético na sua escrita.
Conhecido para que possa ser escrito. Escrito para que possa ser lido. Lido para que possa ser falado. E um dia, quem sabe, extinto. A cadeia da memória e da literatura é um longo processo, nem sempre frutífero, mas tão ou mais relevante que marchas, protestos e leis. Raparigas Mortas é um relato cru sobre como ser mulher e estar viva pode não passar de uma questão de sorte.
Como surgiu a ideia de Raparigas Mortas?
É um projecto que começou no ano 2008. Conhecia um dos casos de que falo no livro, o de Andrea, e tropecei por acaso num outro similar, o de María Luisa, através de uma anotação de um diário. A partir daqui começou a gerar-se a ideia de um livro que abordasse a ideia de um femicídio, mas não a partir de casos actuais (infelizmente, surgiam cada vez mais nas notícias), antes sobre casos por resolver, histórias que não haviam ido além da suas pequenas comunidades. Procurei um terceiro caso e encontrei o de Sarita. Consegui um subsídio do Fundo das Artes para começar a investigação. Trabalhei nela durante dois a três anos e por fim publiquei o livro na Argentina em 2014.
Entre os anos 80, cenário temporal dos casos, e a actualidade, que mais mudou na questão do tratamento de género?
Apesar de as mulheres ocuparem hoje lugares mais visíveis e, em alguns casos, de poder (até há pouco tivemos uma mulher presidente), por vezes sinto que temos mais visibilidade devido ao avanço do machismo. Quanto mais as mulheres saem à rua e levantam a voz, mais violenta é a resposta machista. Apesar do presente ser sombrio, penso que há um progresso por podermos abordar os temas da desigualdade, misoginia. Por podermos dar os verdadeiros nomes aos crimes: chamá-los de femicídios e não de crimes passionais, como eram chamados até há pouco tempo. As marchas, protestos e leis aprovadas ajudam a formar consciência mas temos um duro trabalho de anos pela frente.
Imagina um homem a escrever este livro?
Não, não imagino. Não sei se poderia ter escrito Raparigas Mortas porque a narração dos casos está intimamente ligada à narração de como era ser mulher nos anos 80, como é ser uma mulher agora, e como estar viva é uma questão de sorte. Um homem, por mais empatia que tenha, não consegue pôr-se neste lugar. Todas nós já passámos pelo menos alguma vez por uma situação de violência machista. Um homem não conhece o medo de caminhar sozinho à noite, ou o nojo e a frustração que pode provocar-te na rua. E acontece que homens que não conheces gritam coisas sobre o teu corpo e dizem o que te fariam se tivessem tempo ou vontade
Diz que não quer ser uma voz mediática sobre a violência de género. Com que objectivo escreve?
Mais do que voz mediática, a mim aborrece-me quando me chamam para opinar sobre um novo caso ou quando me pedem soluções. Respondo que há quem estude isso, especialistas sobre o tema. O meu caso é o de uma militância pessoal, uma reflexão e uma preocupação permanente sobre o tema. Mas não quero dar palpites sobre um assunto tão sério (como acontece com muitos jornalistas que apenas reproduzem preconceitos culturais).
Essa militância é reforçada por alguma experiência mais pessoal?
Não, tem a ver com uma tomada de consciência e um compromisso. É como dizia. Nenhuma mulher, pelo menos no meu país, pode dizer que nunca foi alvo de machismo. Cresci a assistir à banalização da imagem do vizinho a bater na mulher, ou do namorado ciumento que proíbe a namorada de se maquilhar e falar com outros homens.
Sente que as mulheres continuam a ser alvo desse machismo vindo de homens mas também de mulheres?
Sim, infelizmente muitas mulheres apontam o dedo a outras: por serem lindas, feias, gordas, magras, por terem uma vida sexual livre... e até por serem feministas. Há pouco tempo uma actriz de TV disse algo como: “sou feminista mas gosto de homens”.
Nasceu numa pequena vila. De que forma isso condiciona a sua escrita?
A minha escrita tem tudo a ver com isso, da linguagem que escolho para trabalhar até aos ambientes, personagens e histórias que narro.
Como vê essa relação entre a realidade e a ficção?
Bom, no meu caso a realidade rende-me bastante na hora de escrever ficção. Reescrevo universos bastante realistas, ainda que nestes sítios a realidade tenha sempre uma dupla face, uma sobrerealidade que se nutre muito da superstição e dos mundos mágicos. Acho interessante esta contaminação de universos. É o que me interessa resgatar nos meus textos.
Procura transformar assuntos periféricos em temas nucleares?
Não sei se isso é um objectivo. A verdade é que não tenho objectivos na hora de escrever. Interessa-me trabalhar sobre a língua, com a língua e até contra a língua em que nasci e em que me criei. O mundo está cheio de pequenas coisas, insignificantes, ou tremendas, gravíssimas, mas que se convencionaram, tornando-se invisíveis. Gosto de rasgar isso com a unha e ver o que está lá por baixo.
Não gosta de viajar. Não é perigoso para quem escreve?
Perigoso não digo. Porquê perigoso? Perigoso é mentir, ser desonesta. Não gosto de viajar, desorganiza-me e afasta-me da escrita. Talvez a ideia da viagem esteja sobredimensionada. Um dos poetas que mais admiro, Juan L. Ortíz, só saiu do país uma vez, por um curto tempo. Passou o resto da vida ao lado do rio e escreveu uma das obras mais belas e profundas da Argentina.
Que lições transmite aos seus alunos?
Espero transmitir-lhes o amor pelo trabalho, a preocupação pela escrita, mais do que pela publicação ou circulação. Foi o que me ensinou o meu mestre Alberto Laiseca.
Raparigas Mortas
Dom Quixote
****
13,90€