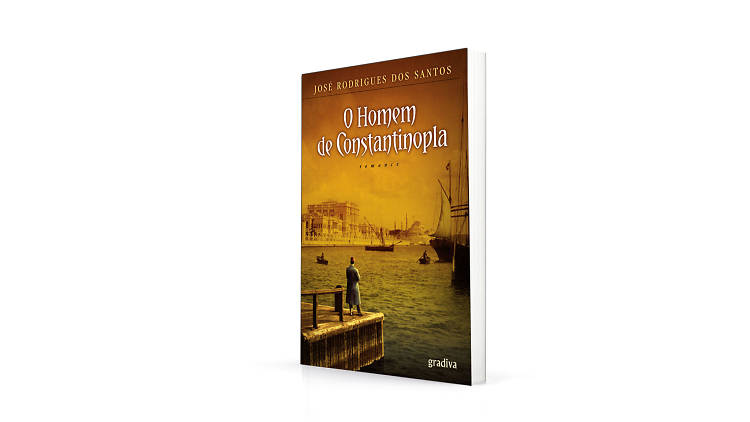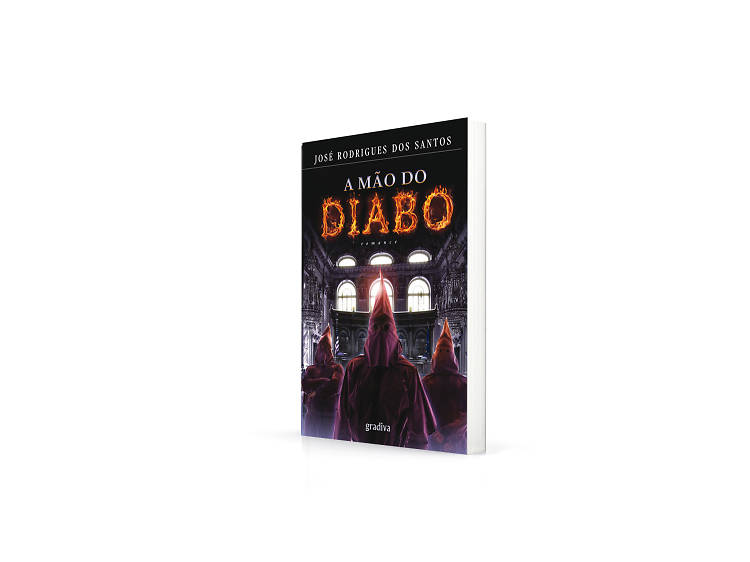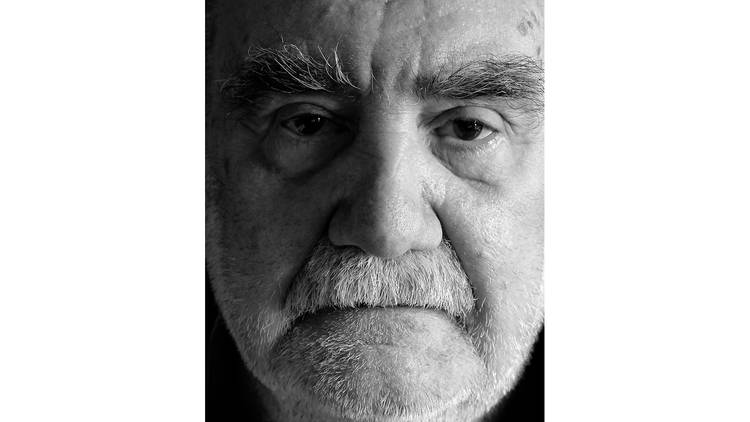O Último Segredo até tem trechos cativantes. Pena é que não tenham saído da cabeça de José Rodrigues dos Santos. José Carlos Fernandes mergulhou neste livro “arrasado” pela Igreja Católica e ficou de olhos arregalados.
Quando um livro promete revelações sensacionais sobre as Escrituras, fica-se à espera de descobrir que Judas se enforcou não por remorso mas porque depositara as 30 moedas no BPN, ou que a sanha de Caifás contra Jesus resultava de o Sumo-Sacerdote ter um bar de strip em Cafarnaum e de as prédicas moralistas de Jesus estarem a prejudicar-lhe o negócio. Porém, as “revelações” de O Último Segredo soarão familiares a quem esteja a par dos debates em torno do Novo Testamento e dos primórdios do Cristianismo. O autor que mais tem contribuído para divulgar esse debate junto do público não-especializado tem sido Bart D. Ehrman (JRS cita-o como fonte) e são as suas teses, pondo em causa a imagem “oficial” de Jesus e da história do cristianismo, que são papagueadas, em versão simplista, pelo criptanalista Tomás Noronha, num show-off de erudição que entope centenas de páginas. Como é hábito nos livros de JRS, tal operação requer, além de um sabe-tudo, um néscio – no caso, a “lindíssima” inspectora Ferro – a quem, perante o caudal de segredos surpreendentes, não resta senão fazer ginástica facial durante páginas a fio (“curvou os lábios”, “esboçou um esgar”, “ergueu a sobrancelha”, “carregou as sobrancelhas”, “arregalou os olhos”).
Por vezes, JRS fica perigosamente perto do texto de Ehrman: na pg.76, diz Tomás Noronha: “Não temos os originais do Novo Testamento nem as respectivas cópias. Na verdade, não temos as cópias das cópias, nem sequer as cópias das cópias das cópias” e na pg.10 de Whose word is it? (edição britânica de Misquoting Jesus), de Ehrman, escreve-se “Não apenas não temos os originais, como não temos as primeiras cópias dos originais. Nem sequer temos cópias das cópias dos originais, ou cópias das cópias das cópias dos originais”.
De resto, a nova aventura do criptanalista Tomás Noronha continua a conjugar enigmas de polichinelo e clichés de filme de acção bera, cimentados com doses generosas de ingenuidade. O contributo “original” de JRS está na premissa que serve de eixo à acção (e para cujo funcionamento são pouco relevantes as centenas de páginas de Crítica Textual do Novo Testamento): uma fundação amante da paz pretende resolver os conflitos do Médio Oriente clonando Jesus mas há gente a quem a paz interessa pouco e tentam travar o projecto por todos os meios, incluindo o “assassinato brutal” (não há forma de os assassinos de JRS ganharem maneiras e delicadeza).
Dando de barato que existiu alguém semelhante ao Jesus descrito no Novo Testamento, que Jesus não ressuscitou, que se localizou o seu túmulo e que é possível recuperar ADN intacto com 2000 anos (!), só pode pasmar-se perante a candura de quem confunde genética com destino. Mesmo que a clonagem tivesse sucesso, o mais provável é que, ao fim de 30 anos, se obtivesse não um Príncipe da Paz mas um contabilista tímido e dispéptico a viver com a mulher, os sogros e uma cadela zarolha num T1 em Tel-Aviv. E se a genética determinasse o destino, uma vez que JRS “revela” o Jesus bíblico como um agitador judeu que defendia a estrita observância da lei judaica e anunciava “não vos trago a paz mas a espada”, nesse caso Jesus 2.0 desabrocharia na idade adulta como judeu ultra-ortodoxo, dos que sonham com o Grande Israel, se necessário à força do aniquilamento nuclear dos vizinhos árabes. O que foi inesperado foi que, mal O Último Segredo chegou às livrarias, foi alvo de um comunicado de invulgar dureza vindo do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura (SNPC), habitualmente alheio a assuntos tão pouco etéreos como a literatura de aeroporto, reprovando não a componente ficcional do livro, mas o facto de este não passar de uma versão “requentada” das teses de Ehrman & C.ª e de “arrombar uma porta que há muito está aberta”.
Custa a crer que, acaso fosse publicado por cá um dos livros de Ehrman, o SNPC perdesse tempo a denunciá-lo. Então porque se assanha contra um romance em que uma personagem reproduz as teses de Ehrman? Acontece que Ehrman seria lido por umas centenas de réprobos, não produzindo estragos no rebanho, e um livro de JRS chega a muitas dezenas de milhar de fiéis, a maioria dos quais, paradoxalmente, pouco ou nada conhecem da Bíblia, pelo que ficarão estarrecidos ao “descobrir” que o Novo Testamento não é a palavra literal, infalível e imaculada de Deus mas uma caldeirada de textos de diversas origens e épocas, distorcidos por séculos de erros, contaminações e deturpações. Assim se vêem as diferenças entre religiões: se alguém escreve um livro que belisque o Islão, os mulás prometem o Paraíso a quem degolar o autor blasfemo. Perante ofensa análoga, a Igreja Católica oferece-lhe publicidade gratuita.
Notas adicionais:
1) “Ay, madre mia! Ando a ver demasiados filmes!” é uma das primeiras falas do livro e também uma das últimas da paleógrafa Patricia Escalona – é “brutalmente assassinada” uns instantes depois. A paleógrafa é espanhola e distingue-se dos italianos, que exclamam “Mamma mia!”, e dos irlandeses, que proferem “My God!”. Resta saber em que língua falam eles quando não estão a anunciar ostensivamente a sua nacionalidade. Quem sabe o Espírito Santo desce sobre eles e dá-lhes a capacidade de falar em línguas desconhecidas.
2) JRS, um émulo de Dan Brown? Qual quê? “Melhor que Dan Brown”, proclama uma publicação holandesa citada na contracapa.
3) O trabalho de casa foi feito atabalhoadamente: na pg. 351 JRS refere “autores cristãos do século II, como Martyr”. Martyr? Será que JRS não percebeu que este Martyr é parte do nome inglês Justin Martyr, correspondendo em português a Justino Mártir, também conhecido por Justino de Nablus ou São Justino (103-165 dC) e que “Martyr” é um cognome que não pode ser tomado pelo nome, pela mesma maneira que não pode referir-se por “Breve” o rei franco Pepino o Breve?
4) Na nota final, JRS aponta Hermann Reimarus (1694-1768), como pioneiro da análise histórica do Novo Testamento. Leu apressadamente a bibliografia que diz ter consultado, senão saberia que Reimarus foi precedido nesse domínio por Richard Simon (1638-1712), John Mill (1645-1707), Richard Bentley (1662-1742), Johann Albrecht Bengel (1687-1752) e Johann J. Wettstein (1693-1754).
5) “Plágio” não é o termo adequado para falar da apropriação que JRS faz das teses alheias, mas há ocasiões em que nem se deu ao trabalho de alterar a formulação original. Na pg.76, diz Tomás Noronha: “Não temos os originais do Novo Testamento nem as respectivas cópias. Na verdade, não temos as cópias das cópias, nem sequer as cópias das cópias das cópias”. Na pg.10 de Whose word is it? (edição britânica de Misquoting Jesus), de Ehrman, escreve-se “Not only do we not have the originals, we don’t have the first copies of the originals. We don’t even have copies of the copies of originals, or copies of the copies of the copies of the originals”.
6) Reza a nota do SNPC: “É lamentável que [JRS] escreva centenas de páginas sobre um assunto tão complexo sem fazer ideia do que fala”. Bem, mas JRS não tem feito outra coisa nos seus “romances”: aquecimento global, crise energética, ambiente, genética, história das descobertas, tudo é mal digerido e regurgitado em versão simplória.
7) O padre Anselmo Borges caiu na esparrela de aceitar o convite para apresentar o livro de JRS, aparentemente sem o ter lido, talvez movido por alguma dívida pessoal para com o autor ou a editora ou por não ser capaz de recusar uma oportunidade de exposição pública (ai, as vaidadezinhas...). Depois arrependeu-se da figura que fez (a apresentação de um livro presume cumplicidade e identificação com a obra e o autor, pelo que é difícil apresentar um livro de JRS e não fazer figura de parvo) e apressou-se a negar JRS por três vezes antes do cantar do galo, em artigo no DN. Nesse texto, Borges deixa claro que as teses (de Bart Ehrman) veiculadas por JRS, que desmontam o Jesus “oficial”, não abalam os pilares da sua crença pessoal, pois a fé dele tem alicerces profundos. Mas a verdade indesmentível é que para a esmagadora maioria dos católicos (os que nem sequer abriram a Bíblia) o Cristianismo se resume a essa caderneta de cromos de historietas piedosas (a virgindade de Maria, o paralítico que deita fora as muletas e caminha, o beijo de Judas, as respostas a Pilatos) e se estas não são verdadeiras, a fé fica abalada. Nem a Pastoral viria a terreiro nem a polémica com a Igreja estaria tão acesa se assim não fosse.