Não há rótulo que caiba na definição sonora de What Kinda Music, o disco que colocou lado a lado os britânicos Tom Misch e Yussef Dayes. Não é estranho que assim seja, se os ouvidos se debruçarem sobre ele. Afinal, há tanta experiência que lhe cabe dentro, tanto augúrio e tanta satisfação na ausência de barreiras que quase podíamos jurar não se tratar de um disco mas de uma jam session.
Do lado de lá do Atlântico o sucesso não é medido da mesma forma. Não é uma questão geográfica, social, não é uma questão política ou geracional. Num mercado que transpira tanto talento, em que o canibalismo artístico é omnipresente, em que as portas de entrada são pouco mais do que pequena parcela no enorme alinhamento necessário para alcançar o topo, e em que as hipóteses são paradoxalmente mínimas e vastas, talvez um Grammy seja uma boa bitola.
André Allen Anjos, portuense, fundador do então colectivo Remix Artist Collective (RAC), venceu-o em 2017, por um trabalho na faixa “Tearing Me Up”, original de Bob Moses. Um ano antes já tinha sido nomeado para a mesma categoria; um remix de “Say My Name”, de Odesza, levou-o pela primeira vez a figurar entre a elite musical. Não que a música construída a título próprio não o fizesse guinar desde 2014 – ano do primeiro disco de assinatura, Strangers –, mas havia nos remixes uma função vital. “Foram uma espécie de entrada na indústria. Ainda em Portugal, tinha feito alguns remixes não oficiais, mas tive o meu grande break antes dos RAC, que foi um tema que fiz para os Bloc Party, em 2005, para a Vice Records. Foi aí que comecei a reparar que estava ali alguma coisa.”

Uma década depois, já em Portland, Oregon, onde vive actualmente, surgiam Master Spy (2015) e Ego (2017), camuflados por entre as centenas de faixas que continuou a alterar e onde encontramos nomes como Kings of Leon, Katy Perry, Lana Del Rey, Yeah Yeah Yeahs ou Phoenix. Três anos volvidos, Boy, o sexto álbum, que é editado esta sexta-feira, é um agregar de todo esse caminho musical, embora encapsule um sentimento particular.
“Crescendo em Portugal, vivendo na Figueira da Foz, Ericeira, esse período foi muito específico, e canalizei muito disso. Estou muito expectante para perceber como é que as pessoas o vão receber, mas para mim é uma coisa óbvia; é um álbum mais maduro, com direcção artística, que sempre foi o objectivo. O primeiro disco fui eu a tentar comprar a minha liberdade, se é que isto faz sentido. Consegui, e nunca mais olhei para trás, posso fazer o que quero. É isso que adoro neste projecto.”
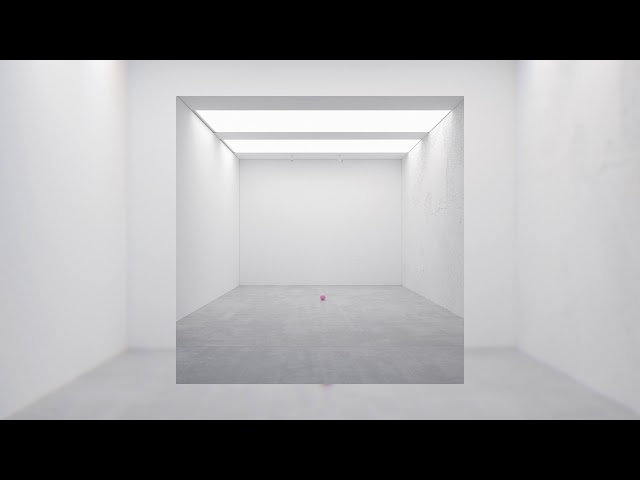
Polvilhado de electrónica, de pop, guitarras, sintetizadores que amparam as vozes, Boy é um resumo de 18 faixas dessa mesma liberdade que nos últimos três anos lhe coube. Um quadro pintado a várias dimensões, em que a sonoridade deambula livremente de uma ponta à outra. Parte disso “é uma questão de percepção”, diz, mas ainda bem que assim o é, porque esse é o sítio que escolheu para a sua música. “Acho que o meu trabalho sempre esteve assim um bocado espalhado, gosto disso, de mudar de estilos, fazer o que quero. Sempre me senti livre de fazer o que queria com este projecto e isto é um reflexo. O tema do álbum é um espelho de uma altura pré-internet, em que vivia num ambiente muito religioso, sem grande acesso a música”.
“Sessenta a setenta” ideias compilam-se assim, de forma instintiva, e passam depois a demos que hão-de chegar aos artistas a quem pediu a voz emprestada. “Dessas 60 ou 70 escolho três ou quatro, encontro um artista de quem goste e que queira trabalhar comigo, mando-lhas, eles escolhem, e construímos a partir daí. Eu tento chegar a muita gente. Depois as demos começam a chegar-me ou não, nunca sei o que esperar. É tudo baseado em improviso, sentimento, entrar num certo estado e tentar não me preocupar. A seguir tento concentrar-me, afinar as coisas. Ouço o produto todo na minha cabeça e é a minha função passar isso para o mundo real.”

E se tudo isto valeu a pena? “É uma conversa longa. As pessoas perguntam ‘para quê fazer um álbum?’. Culturalmente estamos a afastar-nos do álbum, mas para mim é a coisa mais importante. Os discos são a oportunidade de mostrares o que vales e eu levo isso a sério. Os singles não são importantes para mim, o que me interessa é criar um corpo de trabalho coeso”.
Talvez seja essa uma das razões do Grammy, a coesão. Mesmo que salpicada num remix. Não que o prémio não seja importante, é: “Como me disse o meu manager depois de ganhar, ‘aqui vai um para o obituário’, o que de certa forma é verdade, aquilo vai acompanhar-te para todo o lado.” Mas por todo o trabalho e toda a arte que ao longo de mais de uma década o alimentou, há alguma coisa em falta. Então, afinal, como é que se mede o sucesso?
“De certa forma sinto que muita gente aí [em Portugal] nem me conhece. E não há mal nenhum nisso, mas nasci e cresci aí. Muitos dos títulos das faixas são referências a memórias trazidas de Portugal, e queria que isso fosse reconhecido. Acho que grande parte do disco sou eu numa espécie de batalha para lidar com a dupla cidadania; o meu pai é português, a minha mãe americana, estou dividido entre dois mundos mas o lado português é-me muito importante. Gostava mesmo de tocar aí e ter uma ligação profunda a um sítio que é casa.”






