Noah Lennox, o homem que conhecemos como Panda Bear, é um dos mais influentes e inovadores músicos independentes deste século. Foi responsável por discos seminais como Person Pitch, de 2007, ou Merriweather Post Pavillion (2009), dos Animal Collective, mas isso não lhe subiu à cabeça.
Pete Kember, mais conhecido por Sonic Boom, é um nome histórico do rock e da música experimental anglo-americana. Muito do seu legado assenta na música que fez com os Spacemen 3 entre 1982 e 1991, ao lado de J. Spaceman (ou Jason Pierce, o senhor dos Spiritualized), mas o seu trabalho desde a separação da histórica banda de rock espacial é igualmente importante. Seja o psicadelismo dos Spectrum ou a electrónica exploratória de Experimental Audio Research, incluindo colaborações com nomes de culto como Silver Apples ou Delia Derbyshire, da BBC Radiophonic Workshop, ou ainda o seu trabalho de produção e mentoria de músicos de uma geração posterior, como Panda Bear, Beach House ou MGMT, tudo o que ele fez importa e continua a fazer ondas.
Ainda não tínhamos falado com ele desde que veio viver para Portugal há meia dúzia de anos – a última conversa com a Time Out Lisboa foi em 2014 – e aproveitámos uma actuação no Cosmos para dar dois dedos de conversa. Assim que nos sentamos num café da Praça da Flores, ainda com o gravador desligado, o palavreado começa a fluir. Pete parece entusiasmado com um novo projecto, que define como uma espécie de clube social, e vai ocupar o espaço do Santo, um restaurante na Praia das Maçãs, duas vezes por mês. O objectivo é juntar e formar laços entre a comunidade internacional que se mudou para Sintra nestes últimos anos, mas todos são bem-vindos. Passado uns minutos, porém, muda de assunto. “Estamos aqui para falar do meu set no Cosmos. É melhor começarmos por aí”, sugere. Liga-se o gravador.

Vais passar música no Cosmos na sexta-feira, e os lucros revertem completamente para a compra de material técnico e não só para a sala. Porque quiseste ajudá-los?
A Liza [Vasilieva, a promotora] entrou em contacto comigo e perguntou se estaria interessado em tocar no Cosmos. Mas já tinha um concerto marcado em Carcavelos.
A data de 27 de Maio, na Sociedade Musical União Paredense?
Sim. Por isso não podia tocar na zona de Lisboa tão cedo. Mesmo assim, quis encontrar-me com ela no Cosmos, para ver o que podíamos fazer. Gostei muito da onda do sítio e da sala de espectáculos. Só que, enquanto me estavam a mostrar o espaço, reparei que o prédio tinha alguns problemas, algumas carências, e disse que queria fazer alguma coisa ali. Não podia dar um concerto, mas passava música, de graça. Quer dizer, a entrada não é grátis...
É preciso fazer uma doação de pelo menos 6€.
Exacto. Disse que não queria receber dinheiro para tocar lá. Só queria ajudá-los a melhorar as condições do sítio. Posso dar-me ao luxo de fazer coisas destas agora. Tenho tempo livre e não preciso de muito para viver. Sinto-me confortável com o que tenho. Mudar-me para Portugal trouxe-me muita qualidade de vida, por isso não preciso de ganhar dinheiro com tudo o que faço. Passa-se o mesmo com a residência no Santo, o sítio na Praia das Maçãs de que te estava a falar, dos Estrangeiros. A entrada também vai ser gratuita. Às vezes nem os donos dos espaços percebem porque quero fazer estas coisas de graça.
Eu acho que percebo, mas importas-te de explicar?
Quero juntar as pessoas, ajudá-las a fazer contactos, a estabelecer ligações. E é preciso haver mais sítios para as pessoas se juntarem. Sítios como o Cosmos, por exemplo. Que possam integrar na cidade pessoas de todo o mundo e de Portugal, enquanto ouvem boa música. Precisamos de fazer um reset, de recomeçar do zero depois destes dois anos.
Perdemos tanto nestes dois anos.
Pois foi. E agora, para compensar, precisamos de mais coisas destas, com boa onda. O Cosmos é um sítio com boa onda. É a mesma onda que quero que tenham aquelas noites de Estrangeiros no tal restaurante mexicano, o Santo, com cocktails, músicas, uma lareira. A primeira é já quinta-feira, e vamos reunir-nos duas vezes por mês.
Mas espera: o nome da residência é mesmo Estrangeiros?
Sim. Vale mais dizer logo ao que vimos, ou não? Claro que não é só para os estrangeiros. Quero integrar toda a gente, portugueses, alemães, mexicanos, lituanos. Nos últimos dois anos veio gente de todo o mundo para Sintra.
E para Lisboa.
Claro. Compreendo perfeitamente que venham. Faz todo o sentido. A razão por que muita dessa gente – americanos, franceses, ingleses – vem para cá, a razão por que eu vim para cá, é porque já não há muitos sítios assim. É diferente daquilo a que estamos acostumados. De certa forma, Portugal ainda é um pouco antiquado, e é disso que mais gosto. Há muitas coisas de que gostar em Portugal, se bem que o melhor é lembrar-me da Inglaterra em que cresci. Menos globalizada.
Não sentes os efeitos da globalização por cá?
Não tanto como noutros sítios. É claro que tens Starbucks e McDonald’s e centros comerciais horríveis. Só que depois chegas ao centro da cidade, ou vais para fora das cidades, e não sentes tanto essa homogeneização. E o clima é incrível. E o país é estupidamente bonito. Lisboa então é uma loucura. Sintra é ridiculamente bela.
Foi por isso que decidiste mudar-te?
Andava com vontade de mudar de ares. E quando vi a casa para onde vim viver há seis anos, em Galamares, não queria acreditar. Era um sítio espaçoso, com um preço que podia pagar facilmente. Fiquei tipo: foda-se...

Falávamos há pouco de teres vontade de juntar as pessoas e poderes fazer algumas coisas de graça, e lembrei-me que no teu último concerto em Lisboa, a 7 de Outubro, no Lux, também não se pagava para entrar. Pareces querer dar algo de volta à cidade.
E quero. Por um lado, gosto mesmo da cidade, por outro, quero fazer coisas boas pelas pessoas, por muito pequenas que sejam. É o que está ao meu alcance. Conheces a Terceira Lei de Newton?
“Por cada acção há uma reacção oposta e de igual intensidade”?
Sim. Isso não se aplica só à Física. É uma lei universal, aplica-se a todas as coisas, a toda a sociedade. E depois de tanta merda, do Trump, do Brexit, da covid, tem de haver uma reacção oposta. O que eu posso fazer é isto, trazer alguma positividade à vida das pessoas. Sei que sou só uma pequena formiga no grande esquema das coisas, completamente insignificante. Mas as formigas, quando são muitas, conseguem fazer coisas.
Então não conseguem.
Revoluções, até. Limito-me a fazer o que posso para tentar mudar o rumo das coisas. E se esta não é a altura certa para mudar de rumo, não sei qual será. Sinto que tive muita sorte na vida. Aconteceram-me muitas coisas boas. Por isso, às vezes, não preciso de cachês.
Ainda bem. Mas vamos voltar ao Cosmos. O cartaz anuncia a noite como sendo um “DJ set de remisturas raras”. Que remisturas são essas?
Tenho tantas. Das pessoas com quem trabalhei…
Até de ti. O teu último disco, Almost Nothing Is Nearly Enough (2021), é só remisturas de canções do anterior, All Things Being Equal (2020).
Sim. Já não é a primeira vez que me remisturo.
Eu sei. Mas estou a desviar-nos da pergunta. Que remisturas são essas?
Muita coisa, de muita gente. Algumas até já foram editadas. Cobrem um vasto espectro de bandas, dos MGMT aos Beach House. E fiz um disco novo com o Panda Bear.
Já ouvi dizer. O que me podes contar sobre o disco?
Que provavelmente vou passar algumas faixas no Cosmos.
Mas já está pronto? Já há uma data de edição?
Deve sair no Verão.
E vai ser um disco do Panda Bear?
Panda Bear & Sonic Boom, é uma colaboração. No entanto, tivemos de adiá-lo.
Por causa da pandemia?
Não. Usámos alguns samples de pessoas com quem não é assim tão fácil de lidar. Tem sido um processo moroso. Usámos samples de gente como The Everly Brothers e The Drifters, pequenos loops por cima dos quais gravámos o disco.
Imagino que esses samples não sejam baratos.
São horrivelmente caros. Eles ficam com uma grande parte dos lucros, é completamente desproporcional. Mas o disco nasceu de uma conversa com o Noah [Lennox, vulgo Panda Bear] e de uma ideia minha que era pegar nos inícios de algumas canções incríveis, daquelas em que ouves os primeiros acordes e sabes que vão ser fantásticas, e fazer loops por cima dos quais construíamos as canções. Mandei-lhe esses loops e ele começou a escrever coisas incríveis. Liricamente, é o melhor trabalho dele. E mesmo o canto e a escrita das canções são muito especiais, muito aprimorados e diferentes. Talvez sejam as coisas mais tradicionais que ele já fez.
A sério?
Talvez. Claro que é o Panda Bear, por isso nunca vai ser completamente tradicional [risos]. Mas cantamos os dois juntos. Sempre adorei doo-wop e esse tipo de música onde o mais importante são as vozes e uma pequena percussão, umas palmas ou assim. Queríamos fazer um disco assim, com super-boa onda, a lembrar de certa forma a música ska e rocksteady da Jamaica, ali por volta de 65, 66, 67, que nasceu num contexto social e político lixado, contudo tinha grande boa onda. Claro que, apesar destas referências todas, continua a ser um disco meu e do Panda Bear, e soa a nós. Está mesmo bom. Já o mostrei a 40 ou 50 pessoas e as reacções foram sempre espantosas. Que era o que queríamos.
Posso saber como se vai chamar?
Reset.
É do que precisamos, como dizias ainda há bocado. Dizias também que vais tocar algumas dessas canções no Cosmos?
Não as vou tocar, vão estar na playlist. Não vou tocar nada, só passar música. As remisturas já vêm feitas de casa. Mas creio que vai funcionar muito bem. Porque, apesar de ir passar temas de artistas e géneros muito diferentes, têm todos algo em comum, que sou eu. A minha estética. Vou fazer o mesmo no Estrangeiros, basicamente, misturar um pouco de tudo. Todos os tipos de música, e não apenas aquilo que as pessoas querem ouvir.

Tenho ideia de que, além do Panda Bear, és relativamente próximo de músicos portugueses como o Pedro Gomes, o Gabriel Ferrandini, o Pedro Alves Sousa, o B Fachada...
A Maria Reis. São todos meus amigos.
Alguma vez pensaste em fazer algo com eles?
Pensei. Porém é difícil para mim trabalhar numa língua que não domino completamente. Foi algo de que provavelmente só me apercebi depois de tentar fazê-lo e sentir que estava a passar-me ao lado muita coisa, que não estava a conseguir apreciar a música como devia. A produção para mim é um processo muito colaborativo, tento levar algo para os discos dos artistas com quem trabalho e, neste caso, com as canções em português, não sei o que poderia trazer. E o problema, lá está, é que pessoas como o B Fachada e a Maria Reis cantam em português. O que torna tudo mais complicado. Mas nunca digas nunca.
Até porque eventualmente vais aprender a falar português.
Sim [risos]. E na verdade o português cantado, para mim, é mais fácil de entender do que o português falado.
Porque os cantores abrem mais as vogais?
Exacto. Devagar, devagarinho, mas hei-de lá chegar.
Claro. E costumo ver-te em concertos por cá. Ou pelo menos via, antes da pandemia. Gostas do que tens ouvido em Portugal?
Gosto. Se bem que ainda estou um bocado... Sabes que ando a fazer digressões há mais de 30 anos e já vi muitas bandas. Tantas...
Provavelmente até demais. Eu só escrevo sobre música há 15 e tenho a certeza que já ouvi mais bandas e artistas do que devia. Nem quero imaginar passados 30 anos.
Pois. Cada noite é uma surpresa, quando estás em digressão. E isso é óptimo. Às vezes as bandas são espectaculares, outras vezes... É quase sempre bom, mas de vez em quando...
Imagino.
E sabes que originalmente, quando vim para cá, a minha ideia era Portugal ser um sítio onde não trabalhava. Onde só gostava de estar, quando não estava a produzir nos Estados Unidos ou em digressão. Não sou um grande fã de tours. Tenho uma relação de amor/ódio.
Com as digressões?
Sim. Porém, nos últimos dois anos, tenho sentido falta delas. Mal alguém te diz que não podes fazer uma coisa ficas cheio de vontade de fazê-la, não é?
Claro.
Por exemplo, eu dou-me bem com o Ian Astbury, de The Cult. Ele é uma grande estrela nos Estados Unidos. E era um dos maiores ermitas de sempre, até que veio a covid e o fecharam em casa. De repente estava todos os dias a querer sair para o Troubador, para o Whisky [a Go Go] e todos esses clubes de Los Angeles, onde ele mora.
Aconteceu-me a mesma coisa. Dantes saía todas as noites, mas entretanto acalmei. Queria era ficar em casa, sossegado. E agora ando a sair todas as noites outra vez. Também é capaz de ser porque fiquei solteiro, mas não só. Depois da covid a malta quer festa.
Mesmo. Senti isso em Lisboa. A partir de certa altura as pessoas voltaram para a rua em força. Já sabia que isso ia acontecer. Acho que as pessoas sentiram e ainda sentem falta de contacto humano. Da última vez que isto aconteceu, com a gripe espanhola, ou o que lhe quiseres chamar, tivemos os loucos anos 20. As pessoas nunca tinham curtido tanto. Penso que vai acontecer o mesmo agora.
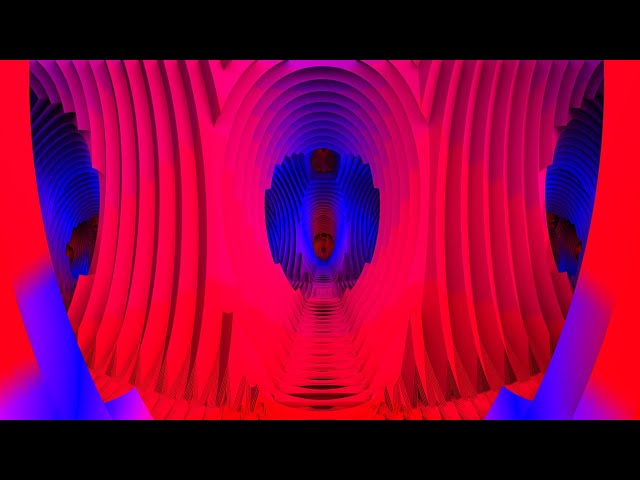
O teu último álbum de originais, o All Things Being Equal, foi uma das bandas sonoras desta pandemia. Pelo menos para mim. Tinha ido viver para o Alentejo pouco tempo antes, e lembro-me de o ouvir e pensar que aquele disco, holístico, em contacto com a natureza, com a vida e a morte muito presentes nas letras, capturava perfeitamente o espírito dos tempos. Conheço muita gente que partilha desta ideia.
Teve esse efeito em muita gente. Foi universal.
Mas como é que o disco ficou tão sintonizado com o zeitgeist? Imagino que tenhas escrito as canções muito antes de saberes o que era um coronavírus.
Muita gente apercebeu-se de como estávamos na merda durante a pandemia. E isso é um bom sinal. Mas eu já sentia isso há muito tempo e estava a tentar processá-lo. As letras das canções reflectem isso. Porque, no fundo, fiz um disco sobre os desafios ecológicos e sociológicos que temos de enfrentar. Que, ao mesmo tempo, era animado e puxava pelas pessoas.
Tanto tem canções positivas, com boa onda, como outras mais contemplativas. Por isso é que ressoou tanto durante a pandemia.
Mas tudo isso para mim foi natural. Estava tranquilo, a tratar do meu jardim, sem pensar em mais nada. E de repente começava a ter ideias. A escrever letras como não escrevia há anos e a pensar em coisas. O disco era sobre como tínhamos de arregaçar as mangas ou íamos ficar na merda. Porque não precisávamos da covid para saber que estávamos a caminhar rumo à catástrofe. Parece que todos os dias abrimos uma nova caixa de Pandora.
Completamente. Estamos a destruir o mundo, lentamente, há décadas.
Ouvi dizer que nos últimos 20 anos perdemos 75% dos insectos. Não falo em números totais, mas em espécies. E o que estamos a fazer aos oceanos não é muito melhor. Acho que foi por isso que o disco conseguiu capturar o espírito do tempo. É claro que não sabia que vinha aí a covid, porém estava atento ao que se estava a passar à nossa volta.
Ainda não falámos do nome com que assinaste este álbum: Sonic Boom. Não o usavas desde que lançaste o teu primeiro disco a solo, quando ainda estavas também com os Spacemen 3. Porque é que voltaste a assumir esse nome passados 30 anos?
Porque me apercebi, quando tentava marcar concertos como Spectrum, que os promotores e o público, por causa dos Spacemen 3, estavam mais familiarizados com Sonic Boom, que era o nome que usava na altura, do que com Spectrum. Nos cartazes diziam que era um concerto do Sonic Boom, mas eu dizia-lhes que eram os Spectrum que iam tocar. Eles diziam que sabiam, só que vinham mais pessoas ver o Sonic Boom do que os Spectrum. Disseram-me isso tantas vezes que acabei por ceder.

Mas porque é que decidiste passar a usar o nome de Spectrum nos teus discos a partir de 1992, depois do fim dos Spacemen 3? Lanças o teu primeiro disco a solo como Sonic Boom, em 1990, e depois mudas de nome.
Achei que não fazia sentido continuar a lançar música como Sonic Boom, que era o meu nome, porque os Spectrum eram uma banda.
E imagino que te quisesses distanciar dos Spacemen 3.
Sim. Os Spectrum nunca foram só eu. Havia outras pessoas, incluindo algumas que também escreviam canções. E, neste caso, soube desde o início que o All Things Being Equal ia ser um álbum a solo, mais electrónico. Não sei o que te diga.
Aconteceu.
Exactamente.
Isso quer dizer que o teu próximo disco pode ser creditado a Spectrum ou mesmo Experimental Audio Research?
Não sei. Isso confunde muito as pessoas. Não tens noção. Tens de ser muito grande para te dares a esses luxos.
E acho que já te podes dar a esses luxos. Fazes música há 40 anos e já colaboraste com nomes históricos: Jason Pierce, Delia Derbyshire, Silver Apples, Kevin Shields, até o próprio Panda Bear. Por falar nisso, como é que eles influenciaram a tua música?
Confesso que me aborreço de morte quando penso demasiado sobre a minha música e influências. Já tinha dado um tiro nos cornos se tivesse de fazer isso diariamente. Porque eu e a minha música não somos o mais importante. Gosto de trabalhar e partilhar experiências com outros músicos. E gosto de fazer coisas diferentes. É claro que a minha música tem uma certa estética, que aprecio. Mas sinto que aprendi imenso com todas as pessoas com quem tive a sorte de colaborar. Porque todos pensam e trabalham de maneiras diferentes, cada um com os seus interesses e inclinações estéticas. E é muito interessante tentar integrar as diferentes filosofias. Aprendi muito com todos os artistas com quem trabalhei. Mais do que eles aprenderam comigo.
Não digas isso.
A sério. Nunca me senti prejudicado. Aprendi com todos.
Estás mesmo a dizer-me que não houve nenhuma banda ou artista com quem não tenhas aprendido nada?
Aprendi sempre qualquer coisa. Talvez seja porque sou muito selectivo. Não gosto muito de trabalhar, por isso as pessoas com quem colaboro ou produzo são escolhidas a dedo.
E não há ninguém com quem te arrependas de ter trabalhado?
Não. Houve um projecto na Suécia do qual me desliguei depois de ter cumprido as minhas obrigações iniciais. Mas não foi por razões musicais. Às vezes as pessoas simplesmente não encaixam. É por isso que, ultimamente, antes de começar a trabalhar com alguém, sugiro fazermos uma sessão de teste juntos e ver como nos entendemos, antes de nos enfiarmos três meses num estúdio a gravar um disco.
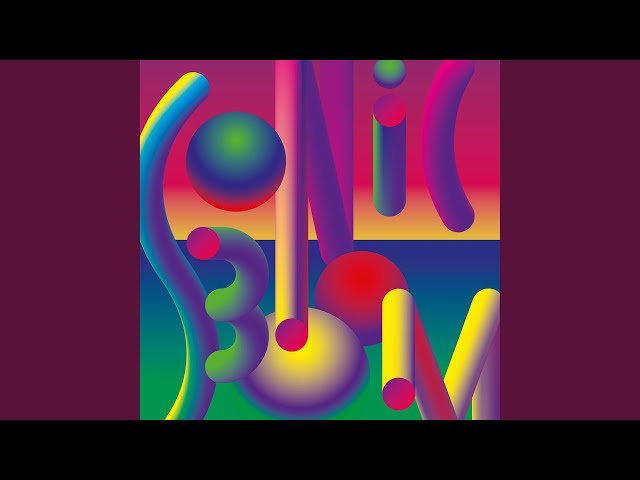
E outros arrependimentos, não tens? Uma das canções do teu último álbum de originais, a “Spinning Coins and Wishing On Clovers”, parece abordar esse tema.
Essa canção é sobre sorte e azar. Eu acho que cada pessoa faz a sua própria sorte. É claro que algumas das melhores coisas que me aconteceram na vida não foram planeadas, nem aquelas que achava que iam ser incríveis. Foram apenas coisas que aconteceram por acaso. Por causa de pessoas que conheci sem saber bem porquê.
Isso quer dizer que não te arrependes de nada?
É claro que não me orgulho de tudo o que fiz. Isso é garantido. Mas repara que fui viciado em heroína durante 20 anos ou mais, e mesmo isso não é algo de que me arrependa, no geral. Foram experiências importantes para me tornar o homem que sou hoje. E, como te dizia há pouco, tive sorte na vida.
Alguma vez imaginaste, quando começaste a fazer música com o J. Spaceman, em 1982, que passados 40 anos ias estar a viver da música?
Não. Claro que não. Éramos um bando de falhados disfuncionais. Começámos a fazer música porque éramos os putos mais malucos e lixados da terrinha. Foi isso que nos aproximou um do outro. Nós mal sabíamos tocar. E, verdade seja dita, foi mais ou menos assim que todas as minhas bandas favoritas se juntaram.
Nessa altura eras um gajo do rock’n’roll.
Ainda sou. Adoro o rock’n’roll.
Não dirias que a tua relação com o rock’n’roll mudou ao longo destes anos?
Não obstante, continuo a adorar todos os discos que alguma vez adorei. Ainda os tenho guardados e de vez em quando volto a apaixonar-me por eles e a explorá-los a fundo. Discos dos Animals e dos Stones e dos Yardbirds. Acho que todos os discos e canções que alguma vez fiz são rock’n’roll. Mas não quero estar sempre a fazer a mesma coisa. Gosto de ver a música evoluir e esforço-me para fazer música diferente de toda a gente.
Mas hoje a tua música é mais electrónica.
Dizes isso porque ainda não ouviste o disco que fiz com o Panda Bear. É rock’n’roll, bebé.
Santo (Praia das Maçãs). Qui 20.00-00.00. Entrada livre; Cosmos (Lisboa). Sex 18.00-00.00. 6€.







